Extraído de “O triste fim de Policarpo Quaresma”, 1915
Lima Barreto
Nota do bloguista : o texto é de 1915. quanto então tocar violão era coisa de malandro, de pessoa desocupada. Como pode se ler no texto: “...Um homem tão sério metido nessas malandragens!”; “…À vista de tão escandaloso fato (de Policarpo comprar um violão), a consideração e o respeito que o Major Policarpo Quaresma merecia nos arredores de sua casa, diminuíram ...”. O instrumento era tão mal visto que não poderia ser exibido em público : “a guitarra vinha decentemente embrulhada em papel, mas o vestuário não lhe escondia inteiramente as formas”.
Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às quatro e quinze da tarde. Havia mais de vinte anos que isso acontecia. Saindo do Arsenal de Guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo, às vezes, e sempre o pão da padaria francesa.
Não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que, às três e quarenta, por aí assim, tomava o bonde, sem erro de um minuto, ia pisar a soleira da porta de sua casa, numa rua afastada de São Januário, bem exatamente às quatro e quinze, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito.
A vizinhança já lhe conhecia os hábitos e tanto que, na casa do Capitão Cláudio, onde era costume jantar-se aí pelas quatro e meia, logo que o viam passar, a dona gritava à criada: "Alice, olha que são horas; o Major Quaresma já passou."
E era assim todos os dias, há quase trinta anos. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida superior ao seus recursos burocráticos, gozando, por parte da vizinhança, da consideração e respeito de homem abastado.
Não recebia ninguém, vivia num isolamento monacal, embora fosse cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito e misantropo. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos, e a única desafeição que merecera, fora a do doutor Segadas, um clínico afamado no lugar, que não podia admitir que Quaresma tivesse livros: "Se não era formado, para quê? Pedantismo!"
O subsecretário não mostrava os livros a ninguém, mas acontecia que, quando se abriam as janelas da sala de sua livraria, da rua poder-se-iam ver as estantes pejadas de cima a baixo.
Eram esses os seus hábitos; ultimamente, porém, mudara um pouco; e isso provocava comentários no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas pessoas que o visitavam até então, nos últimos dias, era visto entrar em sua casa, três vezes por semana e em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável! Que seria?
E, na mesma tarde, uma das mais lindas vizinhas do major convidou uma amiga, e ambas levaram um tempo perdido, de cá para lá, a palmilhar o passeio, esticando a cabeça, quando passavam diante da janela aberta do esquisito subsecretário. Não foi inútil a espionagem. Sentado no sofá, tendo ao lado o tal sujeito, empunhando o "pinho" na posição de tocar, o major, atentamente, ouvia: "Olhe, major, assim". E as cordas vibravam vagarosamente a nota ferida; em seguida, o mestre aduzia: "É 'ré', aprendeu?" Mas não foi preciso pôr na carta; a vizinhança concluiu logo que o major aprendia a tocar violão. Mas que coisa? Um homem tão sério metido nessas malandragens!
Uma tarde de sol — sol de março, forte e implacável — aí pelas cercanias das quatro horas, as janelas de uma erma rua de São Januário povoaram-se rápida e repentinamente, de um e de outro lado. Até da casa do general vieram moças à janela! Que era? Um batalhão? Um incêndio? Nada disto: o Major Quaresma, de cabeça baixa, com pequenos passos de boi de carro, subia a rua, tendo debaixo do braço um violão impudico. É verdade que a guitarra vinha decentemente embrulhada em papel, mas o vestuário não lhe escondia inteiramente as formas. À vista de tão escandaloso fato, a consideração e o respeito que o Major Policarpo Quaresma merecia nos arredores de sua casa, diminuíram um pouco.
Estava perdido, maluco, diziam.Ele, porém, continuou serenamente nos seus estudos, mesmo porque não percebeu essa diminuição. Quaresma era um homem pequeno, magro, que usava pince-nez, olhava sempre baixo, mas, quando fixava alguém ou alguma coisa, os seus olhos tomavam, por detrás das lentes, um forte brilho de penetração, e era como se ele quisesse ir à alma da pessoa ou da coisa que fixava. Contudo, sempre os trazia baixos, como se se guiasse pela ponta do cavanhaque que lhe enfeitava o queixo.
Vestia-se sempre de fraque, preto, azul, ou de cinza, de pano listrado, mas sempre de fraque, e era raro que não se cobrisse com uma cartola de abas curtas e muito alta, feita segundo um figurino antigo de que ele sabia com precisão a época.
Quando entrou em casa, naquele dia, foi a irmã quem lhe abriu a porta, perguntando:
—Janta já?
—Ainda não. Espere um pouco o Ricardo que vem jantar hoje conosco.
—Policarpo, você precisa tomar juízo. Um homem de idade, com posição, respeitável, como você é, andar metido com esse seresteiro, um quase capadócio — não é bonito!
O major descansou o chapéu-de-sol — um antigo chapéu-de-sol, com a haste inteiramente de madeira, e um cabo de volta, incrustado de pequenos losangos de madrepérola — e respondeu:
—Mas você está muito enganada, mana. É preconceito supor-se que todo homem que toca violão é um desclassificado. A modinha é a mais genuína expressão da poesia nacional e o violão é o instrumento que ela pede. Nós é que temos abandonado o gênero, mas ele já esteve em honra, em Lisboa, no século passado, com o Padre Caldas, que teve um auditório de fidalgas. Beckford, um inglês notável, muito o elogia.
—Mas isso foi em outro tempo; agora...
—Que tem isso, Adelaide? Convém que nós não deixemos morrer as nossas tradições, os usos genuinamente nacionais...
—Bem, Policarpo, eu não quero contrariar você; continue lá com as suas manias.
O major entrou para um aposento próximo, enquanto sua irmã seguia em direitura ao interior da casa. Quaresma despiu-se, lavou-se, enfiou a roupa de casa, veio para a biblioteca, sentou-se a uma cadeira de balanço, descansando.
-----FIM ----










![Link para outras antologias[5] Link para outras antologias[5]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYi5mI0m2sYzz6MgJ2mjOTu651AfRbD1NqlqYnzoXhLq_KZ03FxcNvKNxssBYQutDJYl_nCSq1jaI0L3Sqx6LDGzxuPqKCsbbm__2mDHgZ-cdvzR-nrSyjqzpicO70EyJkGpMz16R0wFA/?imgmax=800)
![Home[4] Home[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8CtUdtfS1AvJNeGjyD0oOGN2aR3BPfs45bCQfFxhmMLte0LAUj057GTdMegWtw8J2OF02sKFFHL8a2g_Xx9jD1RfuNJb_X6YfAKzb6CBntZthM9I36rJzJe0Sm5BSuI_InIIG1glYEP0/?imgmax=800)
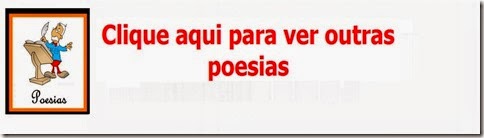







![Link para mais textos[4] Link para mais textos[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEW_zYx80XwMM_-CGdf754HZ_w-mvKM__JWG2OSgm4V_zfTBKW77b45DR-vMIObwcjVrNP4SNW5p6yV67nOMgQFCJhXq8YPhGlDrzNlWks8BMezW7Pr079mughVyuTBGCTvn89qqZRER0/?imgmax=800)
![Link para outras antologias[4] Link para outras antologias[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkOCa9k_uIjkBhrj0VpAj99mZD-mAs2eh-rSUTuQnkNh_1OJsJD0Lfl2kjXsjK75xCA26nbxcorFBGMo-ADKW-lRgcmsPof5iUJ683QPE1IaqTh2G8bh8seUkNCIfq6qzMF2xewKALN0I/?imgmax=800)














![Link para mais textos[4] Link para mais textos[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl_x2TY5RV5OUQhRS3oBhUIJvz2VA59f73E-S9E1SdD2BDYOphCYJgKYlKmv-qr7wj_A9uaYW9y_SXrvN5XjKS1kU7jDGVZyjR691WTxk8lk8yLV3HkDDZz6Kr_HlEvyP-wuG-srsnslg/?imgmax=800)
![Link para outras antologias[4] Link para outras antologias[4]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK1Xr2dPrJUM6bLb6RutrH1LhXfYmotTQWrszWD8MjSXm-Ess-A0Ak9UQrGOjqYGvlUdPhqNAE6_kuYdhiT82eRFlDtLRT8QOrl7oef-5OU5hHqRSZWL9513P2rlvF6nlV__lJgzSXolI/?imgmax=800)
![Home[5] Home[5]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYiMgdRUZT_r_i2NRsm0lvo0Vr-gx8bJ8ieJoYpWkT1qD-6Pv0I_XnQHIg-y5qXuUOg5c-fFVTqW2W3UHblfne-2qjL7e6kPBbiS5rF_AcfBhV-_ohrioiwfHtC2Fzy_ODlG1sakN77X8/?imgmax=800)


